José Pacheco Pereira assina um ensaio intitulado "Futuro Não Futuro Futuros" na Grande Reportagem n. 150, de Setembro de 2003 (GR 150). Esta entrada é relativa a esse texto. No final, ligações às restantes entradas em Futuro Tenso.
A Murphy's sort of Law
ou
A um futuro inesperado.
A democracia é o que fazemos dela. Já critiquei, n'A Sombra, o que hoje conhecemos por esse nome (ver "
A Democracia, esse mito") e é certo que o nosso sistema político, como todos, não é perfeito. Também já aqui expus algumas considerações simples de como se poderia melhorar o sistema democrático, através de uma responsabilização clara dos políticos eleitos e de uma participação activa dos cidadãos, que em muito excede uma ida às urnas de quatro em quatro anos (ver "
Votos").
Mas se esse sistema fosse "apenas" imperfeito nada mais haveria a dizer além da lógica busca da perfeição, do aperfeiçoamento contínuo e progressivo: a procura do sistema perfeito que nos faz correr - pelo menos a alguns de nós.
José Pacheco Pereira (JPP), no seu ensaio da GR 150, surpreende sem surpresa. Ele é assim mesmo. Por isso, apesar de discordar de quase tudo o que diz e escreve, continuo a seguir o seu trajecto e mesmo quando recordo os seus tempos da "tigelinha de arroz diária" o faço em tom irónico, como podiam comigo ironizar sobre os longínquos tempos em que me situava, então sim, claramente "à direita".
O meu passado, porém, existe e não o renego nunca ou tento conferir ao meu presente uma áurea de intemporalidade atípica. De JPP não sei o que pensar. Por vezes, como neste ensaio, parece que o seu passado existe - mesmo que levemente. Outras vezes, o que é notório até no desenvolvimento do mesmo ensaio, é como se não tivesse passado (coisa que outros já referiram, de onde não ser uma percepção isolada).
O paralelo traçado entre democracia e demagogia é apontado como um dos perigos que a primeira enfrenta, mas, apesar da referência da praxe à Grécia Clássica e ao seu modelo civilizacional e político, JPP evita falar da sua base.
A sociedade democrática grega era constituída por células precisas. Cada vez que um desses módulos excedia um limite preestabelecido, uma nova célula era criada. O número limitado de cidadãos em cada parcela era fundamental para o bom funcionamento da democracia de então, o que basta para entendermos como o nosso sistema já pouco tem a ver com a sua matriz, mas a pedra de toque da democracia grega na Era Clássica, que JPP não mencionou, era a escravatura.
Sem escravos, nunca poderia ter existido democracia na Grécia.
Neste particular, poeticamente, podemos considerar o actual sistema democrático mais próximo do seu original. De facto, como mencionou JPP em outro suporte, existe um grande número de trabalhos que nós, cidadãos "de Atenas", já não queremos executar, mas que são essenciais ao nosso modo de vida, dito "civilizado".
Os nossos actuais "Senados" e "senadores" são escolhidos pelos seus/nossos pares, mas eles e nós assentamos no trabalho escravo que nos fornece tal luxo - e nem é preciso recorrer a imagens globais para o demonstrar.
Com a mesma altivez e desprezo dos cidadãos da Atenas de outrora, também nós "não vemos" esses escravos, ao passar por eles todos os dias, ainda por cima com a vantagem da tecnologia, que nos permite deslocar em automóveis com ar condicionado, sendo assim mais fácil ignorá-los. Não se sente o cheiro.
Quanto às "democracias armadas", JPP há muito que ultrapassou o limite do razoável (como ficou recentemente demonstrado num debate com Mário Soares), encontrando-se no extremo oposto dos "Barnabés" deste mundo (ver "
Os Vizinhos").
Sempre considerei as Armas como um dos pilares fundamentais de qualquer Estado, democrático ou não, garante da sua independência, da sua soberania política e económica. Os Estados ditos "neutrais", sem capacidade ou dimensão que lhes permitam assegurar a autodefesa, estão "encostados" a outros mais fortes, que os toleram (sem aspas). Mas serão eles Estados?
A sua independência é mantida à custa de terceiros. No dia em que Espanha quiser, Andorra acaba. No dia em que a França quiser, o Luxemburgo acaba. Quando os terceiros que garantem a defesa desses Estados entenderem, eles deixarão de existir, de um dia para o outro. Os mais fortes, como a Suécia ou a Suiça, têm sistemas defensivos avançados e não prescindem das suas indústrias de armamento.
Mas enquanto eu entendo os militares como garante da defesa dos Estados democráticos, no caso, JPP já há muito os vê como suporte dessa obscenidade a que se chama "defesa preventiva". Uma das conclusões a que JPP chega indica o quanto está próximo desta nova realidade:
"A guerra dos dias de hoje tem como pano de fundo uma resistência global ao alargamento da democracia para fora do mundo ocidental".
Que eu tenha notado, JPP nunca coloca aspas em "ocidental". Depreendo, assim, que considera a Líbia e Angola como fazendo parte do seu "mundo democrático". O equívoco de JPP torna-se deprimente quando demonstra acreditar (mas acreditará?) que o "alargamento da democracia" é uma exportação "ocidental", num perfeito espírito de Cruzada.
Nós, os "brancos", teremos de ensinar os "selvagens" a ser democratas, ao bom estilo de Edgar P. Jacobs. De facto, JPP sempre me lembrou um Mortimer, embora incapaz das suas façanhas físicas, mais balofo.
A democracia não se exporta nem se ensina (ver "
À baioneta").
A democracia é o que cada um dela fizer, uma vez a tenha. E tê-la implica conquistá-la; penosamente, lentamente, alicerçada quer em valores de justiça universal como em valores de identidade nacional. A democracia é a rua, em última análise. Sem o apoio da rua, todo o palácio desmorona, mais cedo ou mais tarde. No caso que motiva esta análise da democracia "exportável", o Iraque, mas na Palestina também, ainda se torna mais difícil implementar tal coisa de um dia para o outro, pois não existe rua mais complexa que a Rua Árabe.
Se nós chegamos até aqui e o mundo árabe não, em muito tal se deve ao "ocidente" de JPP. Veja-se a sua atitude - a das potências "ocidentais" do final do século XIX e início do XX - de régua e esquadro em punho, a desenhar "Estados" e a atribuir reinos no Próximo Oriente, ou a garantir a tolerância dos seus valores à canhoneira no Extremo.
E agora, de régua e esquadro atrás das costas, mas não dispensando os canhões, somos nós quem vai "ensinar" a esses "infiéis" o que é a democracia? Quanto tempo durará a democracia no Iraque, se realmente os deixarmos em paz depois de eleições? Um ano? Uma semana?
Será que são assim tão ignorantes?
Será que a querem?...
E que tem o "ocidente" a ganhar com uma verdadeira democratização do mundo árabe? Mas será que quer mesmo democratizar esse mundo? Já imaginaram o que seria uma Arábia Saudita sem os Saud? Com eleições livres em que o partido maioritário baseia o seu programa em três palavras: "Fuck you USA"? Não dá vontade de os "democratizar" já amanhã?
Como confirmaram oficialmente os responsáveis pela política da actual administração norte-americana, para quem quis ouvir, antes da "libertação" do Iraque:
"Queremos um Iraque democrático, mas nunca toleraremos um Governo iraquiano eleito democraticamente com um programa pró-iraniano."
A isto não se chama "democratizar".
Chama-se colonizar.
Chegado a este ponto, interrogo-me se não estarei a tecer considerações sobre um texto de Filomena Mónica - mas não. É mesmo José Pacheco Pereira quem escreve.
Logo, porém, o próprio se dá a conhecer, recorrendo ao exemplo em que faz explodir autocarros no centro de capitais europeias. No Abrupto era só em Paris e Berlim; depois, no Público, já acrescentava mais outras, entre as quais Lisboa. Aqui, no seu ensaio na GR 150, escolhe as capitais dos aliados "ocidentais" ("a Síndroma do Espadão") (
1): Londres, NY, Madrid... Deixou Lisboa de lado, desta vez.
Numa óptica fantástica, que lhe deve estar no sangue (
2), só lhe falta escrever "Tenham medo! Tenham muito medo!", pois já tem pesadelos com "frotas de autocarros" a explodir por todo o lado.
Os perigos apontados por JPP, no entanto, são reais, mas sem exorbitâncias. Os países europeus que embarcaram com os EUA na sua aventura árabe correm sérios riscos de sofrer atentados no seu solo - e Portugal é um deles (obrigadinho, Zé Manel...) - mas não pelas razões apontadas no ensaio de JPP. Antes pelo seu oposto.
E termina JPP:
"A lei de Murphy diz que tudo o que pode correr mal vai certamente correr mal. Pode ser que não, que algumas coisas deste futuro já presente não vão ser assim. Mas o homem avisado pensa usando a Lei de Murphy."
Curiosa escolha para epílogo.
"Pensa", não "escreve". A troca de verbos seria interessante, mas impediria a existência do ensaio que antecede a conclusão de José Pacheco Pereira - partindo do princípio que ele próprio é um "homem avisado". Apenas se esqueceu do inesperado, que é uma das condições primárias da imponderabilidade e variável fundamental da Lei de Murphy.
Tudo o que pode correr mal vai, certamente, correr mal e quando menos se espera. Não é este o caso.
Esta, já eu esperava.
Rui Semblano
Porto, 25 de Setembro de 2003
(
1)
Relativo a "O Segredo do Espadão", de Blake & Mortimer
por Edgar P. Jacobs (1947).
(
2).
José Pacheco Pereira é irmão de Beatriz Pacheco Pereira, uma das responsáveis pelo Festival de Cinema Fantástico do Porto - Fantasporto.
De onde o "fantástico" no sangue.
Em
Futuro Tenso:
parte 1 -
A Murphy's sort of Law - José Pacheco Pereira
parte 2 -
Os "rurbanos" - Gonçalo Ribeiro Telles
parte 3 -
Manifesto antipunk - Pedro Mexia
Análise dos ensaios destes autores na
Grande Reportagem n. 150 - a última mensal
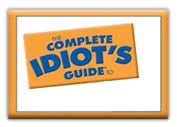

Sem comentários:
Enviar um comentário