"Daqui nasce um dilema: é melhor ser amado que temido, ou o inverso? Respondo que seria melhor ser ambas as coisas, mas, como é muito difícil conciliá-las, parece-me muito mais seguro ser temido do que ser amado, se só se puder ser uma delas."
Nicolau Bernardo Maquiavél
I. Das Oportunidades Perdidas
Janeiro do terceiro ano do terceiro milénio.
Se tudo correr pelo pior, na junção dos três começará o fim, quando ao milénio e ao ano se juntar o mês terceiro de 2003. Com um discurso inflamado de orgulho e vingança, um novo Império emergirá, deixando cair a máscara, mas poucos a verão cair e menos ainda lhe reconhecerão nos traços um rosto antigo, um rosto eterno. O nosso rosto pior.
Preferirão ver o que melhor lhes sossega a alma e assegura a vida, pois o ganho do fraco em chamar monstro ao forte pode bem ser a morte. Mais vale chamar-lhe belo, mas sem exageros, que não é estúpido e fim pior às mãos dos monstros têm os bajuladores que os francos, não vão as suas palavras doces transformar-se em lâminas afiadas, voltadas as costas.
A miragem do 11 de Setembro desvaneceu-se. A emoção de sermos um só povo sob o mesmo sol foi tão breve que hoje, ao olhar para trás, me pergunto se teria mesmo existido ou se foi apenas uma ilusão dentro de um sonho. Por um instante de eternidade, imaginei o legado do infame dia realizado. Imaginei quebrado o círculo de terror pelo ensurdecedor cair de uma e de outra das torres gémeas. Era uma metáfora: Mordor e Isengard que ruíam. Mas não. E o desperdício de todas aquelas vidas vai juntar-se ao de tantas outras que se perderam, se perdem e se continuarão a perder em vão. Cada uma dessas vidas perdidas é uma oportunidade em si mesma. Quando o infortúnio é grande, a oportunidade cresce na medida em que cresce o último clamor das vozes que se apagam.
Ao longo da História, muitas têm sido as oportunidades perdidas e já são de mais as que, pelas circunstâncias, se tornaram em grandes oportunidades. Se existiram tempos em que tais atrocidades, por maiores que fossem, não poderiam resultar na realização das oportunidades assim criadas, a partir do século passado tudo mudou. O ser-humano começava a ter uma consciência de si mesmo e do seu espaço como nunca até então experimentara. Pela primeira vez, ele não só via como entendia a oportunidade para além da atrocidade e compreendia, perfeitamente, algo mais. Não o desperdício, que esse sempre lhe fora evidente, mas a sua extensão total, o seu verdadeiro significado e grandeza. Por isso se chamou à Grande Guerra, como ainda hoje se chama ao conflito de 1914-18 sem recurso a numeração, aquela que acabaria com todas as guerras. Não seria assim. Foi apenas uma oportunidade falhada; mais uma, mas a primeira em consciência. A sublinhar este facto, ficaria para a História o desabar da Sociedade das Nações.
Ainda as cinzas desta catástrofe não tinham arrefecido e já outra começava; a Segunda, que com ela trouxe a que seria a maior oportunidade falhada de todo o século XX: o Holocausto.
Sorrio, tristemente, ao recordar que afirmo estas ideias antes de ter identificado, de forma evidente, o tipo de oportunidades a que me refiro e, assim, genericamente, até se poderá argumentar que sucedeu exactamente o oposto, neste último caso; que os milhões de pessoas que pereceram no Holocausto não morreram em vão. Mas para mim morreram. Todas. E nesta palavra "todas" está a essência do erro, pois cada judeu morto nesse período mais em vão morreu por cada pessoa morta a seu lado sem partilhar a sua fé. Cada cigano, cada comunista, cada anarquista, cada diminuído mental ou físico, cada prisioneiro de guerra com a braçadeira "Öst", cada intelectual, músico, escritor e todos os demais que se opunham ao nazismo ou que, simplesmente, o envergonhavam ou enojavam.
Poucos se lembrarão que o Holocausto não é judeu e, perdoem-me, não por ser de um tempo em que a palavra se encontrava nos dicionários mas não nas enciclopédias, pois vivi num país desconhecido para muitos dos que nele hoje habitam e em que mais não se divulgava sobre "holocausto" que o seu significado lato, mesmo assim ignorando a sua origem sacrificial judaica, mas sim por pensar que essa origem não justifica a sua aplicação com letra maiúscula como exclusivo dos judeus, assim como não o justifica o facto de, muito provavelmente, terem perecido mais judeus do que não judeus nos campos de extermínio. Apesar de não ser possível provar documentalmente que assim sucedeu, a razão, e não apenas a emoção, diz-nos que muitos milhões de judeus terão sido exterminados em locais desenhados para esse fim ou em outros menos específicos, para mim todos campos de extermínio e não apenas os identificados por uma tabuleta à porta, mas esses milhões de mortos não anulam os outros milhões de seres-humanos, sejam eles em maior ou menor número, massacrados por uma máquina obcecada pela pureza étnica tanto quanto pelo monolitismo político.
Não tenho a mínima dúvida sobre a existência das Leis de Nuremberga, de 1935, e do seu verdadeiro significado, que conduziria à estratégia definida na conferência de Wannsee, em 1942, conhecida como "solução final", o que significa que estou muito longe de poder ser catalogado de revisionista ou de negacionista, termos que mentes esclarecidas já estudaram e desmistificaram, pelo que nem o tentarei neste pobre ensaio, mas, também, não hesito em afirmar que não acredito que um judeu tenha sentido menos tristeza ou revolta pela morte de um não judeu do que pela morte de um irmão de fé, vitimado a seu lado pela besta nazi.
A oportunidade a que me referi perdeu-se exactamente nesse ponto, quando a História preferiu esquecer-se de perguntar às vitimas judias do Holocausto se, de facto, os não judeus foram menos vitimas que elas. Se entendiam por bem que, para todo o sempre, essa palavra significasse o extermínio dos judeus pela Alemanha nazi e nada demais. Ao menos aos que pereceram nessa odiosa acção e não eram judeus é poupada a desonra e a vergonha a que os que se conhecem por "seis milhões" não escapam: as de serem motivo e desculpa para que outros sofram o que eles sofreram.
Perdida a oportunidade, resta o oportunismo. O oportunismo de muitos judeus em usarem o Holocausto como carta branca para fazer e desfazer no Oriente Médio, usando uma desculpa que parece tirada a papel químico da estratégia do Terceiro Reich: a necessidade de criação de um "espaço vital".
Israel precisa de muito espaço. Espaço para viver em paz, para plantar alimentos e pasto, para acolher os seus cidadãos regressados da Diáspora, para controlar o seu destino sem depender de vizinhos declaradamente hostis, para ter a segurança de não poder ser atingido a partir de fronteiras demasiado próximas dos centros de maior importância estratégica, civil, económica ou militar. E precisa, sobretudo, de muita água. Em 1948, Israel era muito pequeno. Demasiado pequeno. Depois cresceu. Cresceu não só à custa do Líbano, da Jordânia, da Síria e do Egipto, mas à custa, sobretudo, dos que viviam no seu território sem comungarem a mesma fé dos israelitas. Até na denominação preponderante que se adoptou para os seus cidadãos se nota o que está subjacente ao Estado de Israel. Se israeliano muçulmano seria uma designação correcta para um crente islâmico de origem árabe com cidadania de Israel, um israelita não pode, por definição, ser outro que um hebreu. Mesmo em línguas mais simpáticas que o português para com Israel, a designação "israeliano" significa judeu, ainda que implicitamente.
Religião e Estado estão interligados em Israel como talvez em nenhum outro país, islâmico ou não, e são factores de exclusão sem paralelo em nenhuma sociedade conhecida, mesmo a alemã do III Reich, onde a religião não era um factor determinante. Se pensarmos, portanto, em estabelecer um paralelo formal entre Sionismo e Nazismo, ele não se verifica. Só se verificaria se os nazis fossem fanáticos religiosos, para além de raciais e políticos. Como em muitas outras sociedades, porém, alguns dos traços característicos do totalitarismo alemão do período nacional socialista são reconhecíveis na política israelita.
No que respeita à guerra convencional, a questão está resolvida. A superioridade militar de Israel não tem paralelo no Médio Oriente, até porque os seus programas de desenvolvimento e pesquisa militares fazem a diferença no suposto equilíbrio com o Egipto, no que respeita à ajuda prestada pelos Estados Unidos a ambos os países em pé de igualdade. De resto, tendo em conta o carácter marcadamente pró-judaico de sectores chave da sociedade norte-americana, a igualdade de tratamento aos dois países é discutível se encarada subjectivamente.
Mas as guerras convencionais já não são o factor decisivo quando a desproporção de meios torna os fortes demasiado fortes e os fracos demasiado fracos. Do mesmo modo que a pólvora acabou com o método medieval de fazer a guerra, a tecnologia avançada dos sistemas de armas actuais pôs um ponto final na réstia de moralidade que ainda sobrava à forma mais baixa de se ser humano. Por mais justa que seja a causa, contra máquinas sem coração não se pode vencer sem perder a humanidade. Perdendo-a, perde-se o sentido de honra, de dignidade e de amor-próprio e crescem as suas aberrações, quais mutantes que não fazem sentido para os mais afortunados, como eu, que nunca foram forçados a lutar contra esses gigantes inumanos. Por muito tempo, no século passado, esta realidade era um mito. Eu e muitos como eu imaginavam ainda que seria possível lutar lealmente contra a injustiça e a agressão. Ilusões.
Hoje, as agressões são realizadas por máquinas incapazes de distinguir entre alvos, guiadas por coordenadas que apenas precisam com exactidão milimétrica os pontos de impacto e não o que ou quem lá se encontra, mas desde há muito que se perdeu a lucidez no campo de batalha. Desde há muito que os poderosos abastardaram Sun-Tzu e fazem muito mais que só avançar para a guerra com a certeza da vitória. Avançam com total desprezo pelo custo dessa vitória.
O que resta aos que teimam em resistir perante tamanha adversidade, é tornar esse custo impossível de desprezar e foi isso que os sionistas não esperavam dos palestinianos. Durante muito tempo hesitei em chamá-los assim. Para mim, os palestinianos eram os habitantes da Palestina e isso transformava os próprios israelitas em palestinianos, mas o que descrevi sobre a impossibilidade efectiva de os árabes que habitam Israel serem israelianos veio desmentir algo que deveria ser verdade. Se é certo que os judeus ganharam com sangue o direito a um Estado, correm o risco de desvirtuarem esse direito ao desonrarem o sangue que invocam pelo derramamento do de outros que, por sua vez, assim ganham o direito ao seu próprio país a que chamam Palestina. E o trágico desta dualidade é que são ambos direitos a que o derramamento de sangue deveria ser alheio. Os árabes e os judeus que habitam as zonas que hoje conhecemos como Israel e Palestina deveriam ter aprendido com os que nela viviam antes da criação artificial do Estado de Israel. Mesmo durante essa criação, muitos deles se ajudaram sem olhar a raça ou credo, simplesmente por humanidade. Os europeus e os norte-americanos, auxiliados por agentes de ambos os lados, incentivaram a migração dos judeus para a Palestina com base em diversos pressupostos, todos falsos, desde a noção de que não existiam árabes nesse território até à ideia de que seria possível a criação de um Estado árabe na zona, à custa de outros Estados árabes e mesmo do novo Estado de Israel. Israel é tanto uma criação israelita como a Arábia Saudita uma criação muçulmana. Não podemos rescrever o passado e em nada ajuda imaginar o que teria sucedido se não tivessem acontecido as duas Guerras Mundiais, mas o que não podemos é recusar a tentativa de alterar o futuro.
Perante a agressiva política expansionista de Israel, que aproveitava o mínimo pretexto para transformar a defesa em ataque, a pressão internacional forçou o sionismo a conter-se, o que foi conseguido em menor ou maior escala, desde a manifestação das opiniões públicas europeia e norte-americana, mais eficazes junto dos governos responsáveis pela situação que as dos países islâmicos, até à ameaça de embargos petrolíferos por parte de países árabes. Mas forçar Israel a marcar passo por uns momentos não é o mesmo que convencê-lo a parar. De facto, nem marcar passo será a melhor forma de definir o que se seguiu às campanhas militares israelitas. O que se seguiu é tão escandalosamente parecido com o que o III Reich lograva conseguir com a filosofia do "espaço vital" que a semelhança é irrefutável.
No auge do expansionismo alemão, as populações da Europa ocidental sob ocupação alemã eram mantidas em situação análoga à que conheciam antes da pan-germanização, chegando Berlim ao extremo de permitir uma administração própria na chamada "França Livre", com capital em Vichy, embora dentro de parâmetros muito rígidos. Factores sociológicos e culturais assim o permitiam e aconselhavam a Ocidente, mas o caso mudava de figura a Oriente. Os europeus orientais que excediam a zona de influência cultural ariana (e genética, de acordo com a doutrina nazi) e os asiáticos eram considerados como estando vários elos abaixo dos alemães, na sua escala racial. Esses infra-humanos serviriam de escravos para os Senhores germânicos, que assegurariam a conquista dos novos territórios a Leste de forma permanente não pela manutenção de exércitos de ocupação, mas pela total absorção dos mesmos pelo povo alemão.
Estamos a falar de colonização, de cidades-modelo, prontas a receber os colonos arianos que ocupariam e povoariam esses territórios e aí se reproduziriam em grande número, com total incentivo e auxílio do Estado. Albert Speer, arquitecto oficial de Adolf Hitler e seu Ministro do Armamento a partir de 1942, projectou algumas dessas cidades, que nunca chegariam a construir-se, dado o rápido colapso do III Reich.
Seguindo um princípio semelhante, os judeus começaram a utilizar os colonatos como verdadeiras armas estratégicas; primeiro como postos avançados e de controlo, depois como verdadeiras fortalezas e pontos de bloqueio e, por fim, como verdadeiras cidades, com dezenas e mesmo centenas de milhar de colonos. Este processo decorre ainda hoje e é o instrumento mais eficaz para a remoção de qualquer Estado palestiniano viável. Aqui já não existe o papel químico. A criatividade abunda e a adaptação também, mas a essência do objectivo colonizador permanece.
Para deixar bem clara a minha posição ao comparar princípios estratégicos e não ideologias, dou um exemplo diverso deste, bem mais antigo e bem melhor conseguido que o nazi: os Estados Unidos da América. Foi seguindo esta mesma estratégia de colonatos que os norte-americanos conseguiram transformar a América do Norte no que é hoje, relegando o pouco que resta dos seus habitantes originais para reservas. A colonização da América do Norte é a mais perfeita execução da política hoje seguida por Israel na Palestina. Mas mesmo o facto de serem os autores desta infâmia os principais patrocinadores da política sionista não é garante de um resultado que lhe seja favorável. Existem sempre imponderáveis que podem alterar a História e, neste caso, trata-se mais de uma subestimação que de um imponderável. O pormenor que tem impedido este plano de resultar é o temperamento do árabe palestiniano.
Contrariamente ao judeu europeu dos anos 30 e 40 do século passado, que se deixara ir ao sabor do vento até ser demasiado tarde e se sentira incapaz de reagir perante o soldado alemão, especialmente se este pertencesse a um dos destacamentos SS especialistas no "problema judaico", deixando-se arrebanhar aos milhares perante o olhar de desprezo de um punhado de guardas, o palestiniano de hoje, mesmo em grupos que não ultrapassam os dedos de uma mão, enfrenta não só os numerosos e bem equipados destacamentos do exército israelita como, também, os seus tanques e os seus helicanhões e o que é mais notável é que o faz, na maior parte das vezes, armado com pedras... E pedras nunca faltaram na Europa, mesmo nos anos 30 e 40 do século XX.
Imagino o que sentirá um soldado israelita, de espingarda automática na mão, colete de kevlar vestido e protegido por detrás de um blindado Merkava, ao ver um miúdo palestiniano sozinho atirar-lhe um calhau. Talvez pense no seu avô com a idade daquele pequeno, no meio de centenas de outros judeus e com mais pedras ainda a seus pés, olhando, timidamente, o cabo das SS que, com a sua parca soldadesca armada de espingardas que disparavam de quatro em quatro segundos quando não encravavam, lhe ordenava que entrasse num vagão de gado rumo ao desconhecido.
Talvez esse pensamento seja demasiado insuportável. Talvez seja isso que faz esse soldado israelita premir o gatilho da sua sofisticada arma, capaz de esvaziar um carregador em quatro segundos. Talvez se percebesse que as pedras e as crianças judias da Europa de então nada têm a ver com as pedras e as crianças palestinianas da Palestina de hoje não disparasse sequer. Ou talvez não. Talvez seja o facto de, desde criança, ouvir dizer que os árabes e, principalmente, os palestinianos não são seres-humanos e que o seu objectivo sempre foi a destruição do Estado de Israel e o extermínio dos judeus o que o faz disparar. Não era isso que ensinavam na Alemanha, no tempo em que o seu avô era criança, a propósito dos judeus e dos seus objectivos sinistros para a Alemanha? A História repete-se, como já se havia repetido com o nazismo, pois as ideias de "espaço vital" e dos colonatos como armas de ocupação dos alemães de ontem e dos israelitas de hoje não são inovações, mas apenas adaptações de estratégias semelhantes adoptadas por Estados e Impérios desde que Estados e Impérios existem.
Em termos formais, ideologias de lado, o paralelo entre o Israel sionista e a Alemanha nazi existe e é indesmentível, embora com a grande diferença que faz o extremismo palestiniano. Por mais que os nazis o tenham negado, o objectivo último do III Reich era a eliminação ou a expulsão não só dos judeus, mas de todos os "untermensch" do território europeu e a criação de uma Grande Alemanha. Por muito que os sionistas o neguem, o objectivo de Israel é a expulsão de todos os árabes do espaço que consideram como a sua zona de influência no Médio Oriente, que não é mais do que um Grande Israel. Uma vez que os palestinianos se recusam a ser expulsos, pois além de ninguém os querer acolher estão já na sua própria terra, e se existe uma "diáspora" palestiniana ela foi causada por Israel, não restam muitas dúvidas quanto ao seu futuro.
Mas falar deste problema apenas do ponto de vista que aqui referi não significa que os palestinianos mereçam um apoio incondicional às suas pretensões, pois isso significaria apoiar, também, as facções extremistas dos muitos palestinianos que têm como objectivo a destruição do Estado de Israel e o afirmam ainda mais abertamente que os sionistas que almejam o fim do Estado Palestiniano que mal nasceu. A seu modo, tal como os judeus falharam a sua oportunidade após 1945 e, sobretudo, após 1948, também os palestinianos falham hoje a sua própria oportunidade, ao recusarem a essência da Intifada e abraçarem métodos de retaliação que nada têm a ver com uma luta pela liberdade.
Compreenderia, pelos motivos já expostos, que um suicida palestiniano entrasse num quartel israelita e se fizesse explodir, mas não só não compreendo como não aceito e condeno os que escolhem objectivos civis para este tipo de luta desesperada. O facto de a máquina de guerra israelita provocar um grande número de vítimas entre os civis palestinianos não pode ser justificação para isso, a não ser que nos conformemos ao princípio de que só sendo bestiais poderemos subjugar as bestas, assumindo os riscos de que outras bestas se levantem para nos subjugar e, no processo, perdendo toda a humanidade. Talvez seja esse o futuro que nos aguarda, mas não é o que quero para mim ou para os que se seguirão a mim.
Posto de forma simples, um palestiniano que enfrenta os tanques israelitas em Ramallah com pedras na mão é um herói, mas um outro que entra num autocarro em Tel-Aviv carregado de explosivos e se faz matar junto com homens, mulheres e crianças é um animal igual aos israelitas que atiram a matar sobre tudo o que tenha mais de doze anos e seja árabe. Simples, mas muito complexo.
O terceiro mês do terceiro ano do terceiro milénio aproxima-se.
Nessa altura, ao que tudo indica, com ou sem autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas, os Estados Unidos pretendem eliminar mais um dos seus cães de fila que se voltou contra o dono: Saddam Hussein. Esta atitude do governo norte-americano resultará, a verificar-se, na destruição de todas as promessas do 11 de Setembro: cooperação mundial, paz mundial... Um novo ciclo se começa a desenhar e as suas consequências são tão imprevisíveis como perigosas. Para infelicidade do mundo, o 11 de Setembro acontece quando se encontra em Washington uma administração que, à partida, nega em si mesma o aproveitamento da primeira grande oportunidade do século XXI para que a Humanidade se una em definitivo. O que poderia ser o primeiro degrau de uma escalada irreversível para o entendimento entre os povos é, rapidamente, transformado pela chamada Administração Bush no primeiro passo para uma vertiginosa descida aos infernos.
O resultado mais evidente e imediato deste trágico fracasso é o início da ruptura do Eixo Atlântico. A Europa afasta-se da América pela primeira vez desde o século XVIII, se descontarmos as relações ambíguas com algumas das potências do século XIX, como a Inglaterra, a França e a pobre Espanha, sendo suave a adjectivação desta última, tendo em conta os detalhes da guerra hispano-americana.
Todo o mundo, aliás, se encontra dividido entre a necessidade de apoiar ou não uma intervenção militar norte-americana no Iraque, tal é a aparente inevitabilidade de que tal ocorra à margem das Nações Unidas e, consequentemente, do Direito Internacional. A não ser assim, seria uma falsa questão. Apesar desta evidente conclusão, o caos instalou-se am todos os sectores da sociedade e em todos os países do mundo. Ainda recentemente se realizou um debate na nossa televisão pública em que ambas as bancadas, pró e contra uma intervenção dos EUA no Iraque, acenavam com o cenário do multilateralismo, desejável para o campo dos pró e indispensável para o campo dos contra. Até a voz mais lúcida deste debate, a do professor Diogo Freitas do Amaral, manifestou estar enredada nesta teia.
Sejamos claros. Apenas no caso de um ataque unilateral dos Estados Unidos ao Iraque, sem o apoio de uma resolução expressa do Conselho de Segurança da ONU, se coloca a questão de apoiar ou não a posição norte-americana. No caso de existir aprovação das Nações Unidas não se tratará, em primeiro lugar, de uma acção unilateral e, em segundo lugar, isso significaria que existirá um motivo justo e comprovado para agredir o Iraque, pois só nesse caso tal autorização seria dada, como manda o Direito internacional, logo seria sinal de desrespeito pela ONU negar tal apoio que, para fechar o círculo, já não seria dado a um país específico, mas à Organização das Nações Unidas, ela mesma.
As vozes que insistem em alinhar, cegamente, pela política da actual Administração norte-americana (chamar-lhe Administração Bush é um eufemismo, embora correcto do ponto de vista descritivo) reflectem uma singular falta de variedade na sua argumentação, recorrendo ao sofisma basilar declarado por George W. Bush de se estar por ou contra os EUA significando estar por ou contra o "terrorismo", e só a explicação das aspas aqui aplicadas daria para muitas páginas, mas lembrarei, apenas, o veto dos Estados Unidos em 1987 a medidas propostas pelas Nações Unidas para a prevenção do terrorismo internacional, a determinação das suas causas políticas e económicas subjacentes e a realização de uma conferência para a definição de terrorismo e sua diferenciação das lutas de libertação nacional dos povos. Quando a infindável torrente de argumentos contrários os encurrala, recorrem à desculpa tipo de que o Iraque faz gato sapato das resoluções da ONU vai para doze anos. Para os defensores da agressão, isso justifica uma acção unilateral dos EUA contra o Iraque. Uma agressão dita "preventiva".
Se tal argumento fosse sério e, pior, levado a sério, então o Iraque teria de tirar uma ficha e esperar a sua vez na fila, já que muitos outros Estados têm desrespeitado, sucessivamente e por muito mais tempo, resoluções das Nações Unidas. Incluindo Israel e, pasme-se, os próprios Estados Unidos da América. God bless them…
(in Camelot 2003 © Rui Semblano - Porto - Janeiro e Fevereiro de 2003)
Para a frente: ver entrada
Camelot 2003 . 2 (O Eixo Atlântico) de 24Jul2003
Para trás: ver entrada abaixo
Camelot 2003
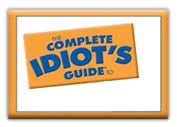

Sem comentários:
Enviar um comentário